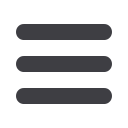

Redes digitais: um mundo para os amadores. Novas relações entre mediadores, mediações e midiatizações
dade aos meios digitais, à publicização de informações e à demo-
cratização do polo de produção simbólica, os amadores em rede
adquirem e desenvolvem saberes-fazeres reticularmente, para
além do papel desempenhado pelos especialistas tradicionais.
Os mais diversos coletivos amadores que se formam em rede
também permitem “obter opiniões, conselhos e expertises, con-
frontar julgamentos, debater e, às vezes, encontrar um público”,
razão pela qual o amador conectado “pode não somente adquirir
competências, mas também colocá-las em prática sob diversas
formas” (FLICHY, 2010, p. 11, tradução nossa).
No caso religioso, não se trata apenas de umamador, mas
também de um “leigo”, ou seja, de alguém não revestido pela ofi-
cialidade e pela institucionalidade religiosas – ou, se investido de
tais competências, alguém que age em rede deliberadamente des-
provido de tais qualificações. O que distingue o “leigo-amador” do
clérigo-profissional é “outra forma de engajamento nas práticas
sociais. Suas atividades não dependem do constrangimento [...] de
uma instituição, mas sim da sua escolha. Ele é guiado pela curiosi-
dade, pela emoção, pela paixão, pelo apego a práticas muitas vezes
compartilhadas comoutros” (FLICHY, 2010, p. 12, tradução nossa).
Graças à ação social desempenhada pelo leigo-amador,
os saberes específicos do campo religioso, antes restritos aos
iniciados, passam a ser disponibilizados como informação pú-
blica, passam a ser “vulgarizados”, “secularizados”, “profanados”.
Conectam-se em redes diversas, criando novos conhecimentos
específicos. Esses discursos locais (mas também globais, ao se-
rem publicizados) geram desdobramentos e desvios na prática
religiosa, seja ela midiática ou não.
Mesmo os espaços institucionais online do campo re-
ligioso (como páginas e sites de instituições religiosas) tornam-
-se campos de reconstrução e disputas de sentidos sobre o “re-
ligioso”, em que a instituição eclesial não consegue deter o fluxo
simbólico – nem o seu próprio, que é sempre ressignificado na
interação em rede, muito menos o discurso amador sobre a ins-
tituição –, não podendo mais assumir o papel clássico de “me-
diadora”. A instituição apenas controla e gere os discursos nos
domínios de seu alcance, na tentativa de organizar e condicionar
a produção de sentido dos leigos-amadores conectados, embora
também com limitações, já que as interfaces e os protocolos não


















